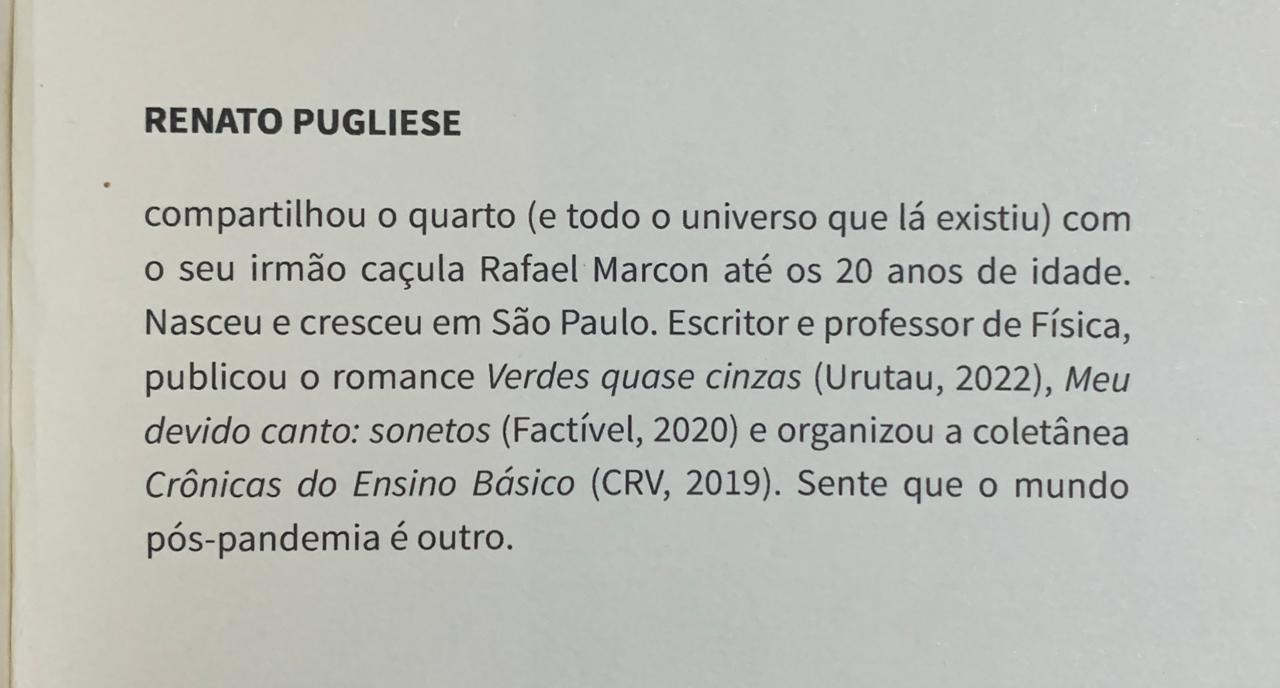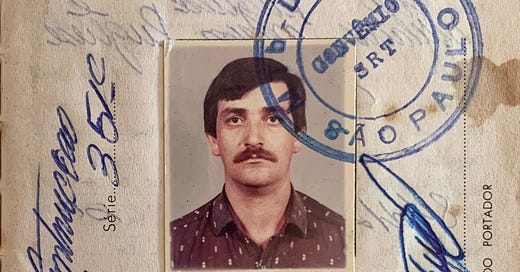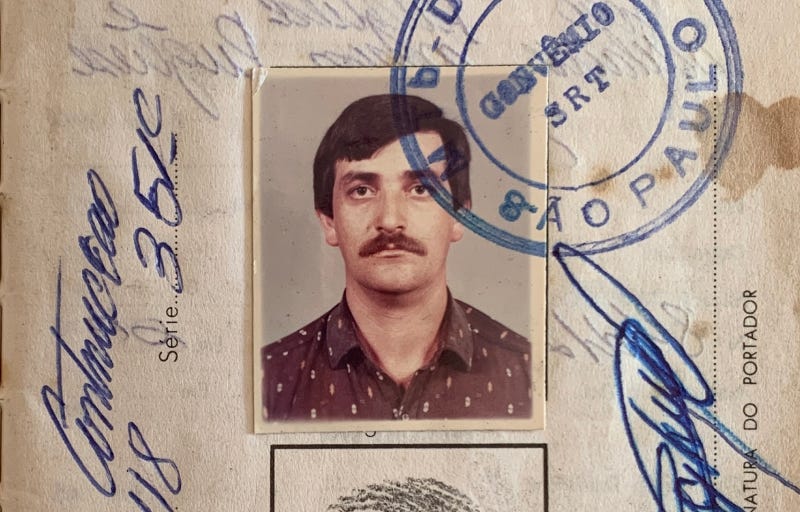Meu irmão lançou um novo livro. Na capa vem escrito Renato Pugliese, mas aqui vou chamá-lo só de Renato mesmo, que é como me refiro a ele normalmente. Eu soube desse lançamento há alguns meses, quando foi selecionado na chamada de originais da editora Urutau, uma notícia agradável. De lá pra cá, conversamos sobre o processo de revisão, a imagem da capa, etc., mas muito pouco sobre o texto propriamente dito. Uma situação meio esquisita, considerando que seu livro anterior, Verdes quase cinzas, eu li ainda antes de ser mandado para a editora, dei meus palpites e tudo mais. O livro de poesia que ele publicou antes dos romances, Meu devido canto, fui eu mesmo que editei, pela Factível. Então sua economia para falar da nova história era suspeita, ainda mais considerando o título, O neto caçula da minha avó paterna. Quem conhece minha família e tá calculando rápido já percebeu que o neto caçula da avó paterna do Renato sou eu.
Longo preâmbulo para explicar que minha leitura do não poderia ser fria. O livro é uma obra ficcional, os personagens têm nomes e características distintas das inspirações que eu sei que ele incorporou (os irmãos protagonistas se chamam Carlos e Eduardo), mas para mim é impossível dissociar de traços chave de nossas vidas. Ler autores conhecidos tem sempre um pouco desse sentimento de intimidade aflorada, às vezes beirando o constrangimento. Sendo um espelho distorcido de um personagem central da narrativa, ainda mais. Ler o diário de alguém tão próximo é uma espécie de exercício de comparação do que é prioritário para a memória de cada um. Mal comparando, lembra a esquisitice de abrir o YouTube ou uma rede social na conta de outra pessoa e se sentir perdido na familiaridade do algoritmo.
E o cenário pano de fundo da história não poderia ser mais familiar, o trauma global da pandemia de covid-19, que impactou a vida de todo mundo e ainda repercute em qualquer aspecto do cotidiano. Acessar outra vez as lembranças da vertigem pandêmica abre infinitas possibilidades para criação, e a escolha de concentrar esse resgate na relação de dois irmãos, que se mantinham em contato para compartilhar a loucura e a lucidez naquele tempo, me pegou completamente desprevenido.
“Apoiou o corpo no balaústre e a cabeça na rede de proteção recém-instalada. Acendeu o Marlboro, deu uma boa tragada e reabriu o livro. A alma lhe doía. O corpo lhe doía. Pela primeira vez o fim do mundo. O luto. Cada tragada no cigarro competia em movimento muscular com o tremer de suas córneas e o enxugar de suas lágrimas. Haveria de superar os quadrados brancos na parede e o ponto final.”
Ainda estando aqui
Há umas semanas assisti o filme do ano, Ainda estou aqui, do Walter Salles. O invoco aqui por duas razões. A primeira é este senso de acompanhar a obra sem esquecer sua origem como tal. Não só no sentido de ser baseada em fatos reais (no caso do filme, muito mais diretamente) mas também pela familiaridade que o povo brasileiro tem com atores como Fernanda Torres e Selton Mello; pela direção de arte que recria tão cuidadosamente décadas passadas, a ponto de ativar recordações particulares em cada espectador; pela repercussão comovida do público que torce pela carreira do filme nas premiações internacionais, num movimento que lembra a torcida pelos atletas olímpicos que assistimos no meio do ano. Enfim, obstáculos para a suspensão da descrença, para que o público mergulhe na obra e esqueça do mundo. Vejo paralelo nisso com meus motivos bem mais pessoais para ter uma fruição acidentada do livro do Renato.
A segunda razão é que algumas das melhores decisões do filme têm similaridades com o que vinha falando sobre o livro, como o enfoque de um núcleo familiar em um contexto crítico sem intenção universalizante: Assim como o filme conta, sobretudo, a história de Eunice Paiva e sua cruzada pessoal (ainda que exemplar) pela memória do marido Rubens; O neto caçula da minha avó paterna narra o esforço particular de Carlos e Eduardo para encarar suas dores, seus dilemas e seu isolamento, literal e figurado. A esse respeito, o texto de orelha escrito por Whisner Fraga é afiado: “Um tratado sobre o egoísmo e a solidão decorrente desse impulso” e “um relato impiedoso de uma geração deslumbrada com suas próprias dores” são formulações que o escritor usa para descrever a história dos irmãos, que “optaram por se afastar da realidade […] do alto de seu direito ao home office.”
E por falar em particularidades, minha curiosidade por reconhecer inspirações não se limitou aos nomes de personagens ou localidades em que os capítulos se passam. Por exemplo, Renato sabe do meu interesse pela forma como nossas interações em ambientes digitais são retratadas na literatura, já conversamos um tanto sobre isso, e não pude deixar de supor que algumas descrições de sites e telas de aplicativo fossem, de certa forma, feitas para mim.
“Clicou em Página inicial. À toa. Clicou em Eduardo Barbieri e sorriu. Era ali. Levou o cursor até o Editar detalhes no menu Apresentação e um pop-up abriu. No tópico Relacionamento, apertou o botão esquerdo do mouse quando apontava para o ícone de lápis que indicava edição e, então, alterou a situação para Divorciado. Achou bonita a palavra.”
Morte pra todo lado
A última entrada no diário que compõe O neto caçula data de 10 de maio de 2020. Isso é quando o Brasil contabilizava cerca de seis mil óbitos causados pelo coronavírus, duas semanas depois do então presidente dizer “E daí?”. Ler agora o que comentávamos na época faz pensar em como esse período já era brutal e também em como não fazíamos ideia do inimaginável que estava por vir. Como alguém pode ter dimensão do que são seis mil mortes? E do que são setecentas mil?
“O movimento na Consolação havia crescido. A quarta-feira não estava normal, mas estava longe de demonstrar um resguardo em distanciamento social como preconizava sua bolha nas redes sociais. Via-se dezenas de carros por minuto. Pedestres. O ponto de ônibus sempre com quatro ou cinco futuros passageiros. O cemitério também apresentava movimento. Percebeu que, ao longo do dia, em todas as vezes que foi à janela fumar, havia um enterro.”
Talvez não soubéssemos sequer das dimensões que pode ter uma única morte.
Quem já lia este Sinto Muito em janeiro pode se lembrar que escrevi contando que meu pai morreu. O pai do Renato, filho da nossa avó paterna. Ao longo de 2024, voltamos a conversar sobre a morte e o luto, como tanto fizemos em 2020, enquanto ele escrevia este livro sem que eu soubesse. O livro do Renato é dedicado ao meu pai.
2024 foi um ano em que a morte me apareceu diversas vezes. Talvez todo ano seja assim e seja só eu que esteja prestando mais atenção agora. Na família, entre amigos, no trabalho, tive a impressão de enviar condolências com uma frequência anormal. Mortes naturais, mortes acidentais, mortes violentas, lembranças do nosso destino inevitável se empilhando mês a mês. Fui resolvendo me afastar de algumas coisas enquanto estivesse assim enlutado, inclusive do hábito de escrever esta newsletter, pelo menos por um ano.
Para minha própria surpresa, escrevo esse texto ainda no meio de dezembro, vendo a luz dos pisca-pisca quando olho pela janela. O lançamento deste livro me pareceu um pretexto irresistível para mencionar que, logo que meu pai morreu, me disseram que a vida é implacável. Que é verdade que a morte sempre vem, mas que não é certo dizer que ela é invencível, porque a própria vida continua. No que fomos, no que fizemos, no que lembram de nós, nos livros e nos amigos e nos amores e nos filhos. E nos filhos dos filhos, que continuam nascendo e inaugurando possibilidades novas e desconhecidas, como dois irmãos nascerem ao mesmo tempo.